 |
| Clique nas imagens para ver as legendas |
Eu cheguei em
Goiás na primeira metade da década de 1970[1].
Para ser mais exato, em 1974. Vim do recôncavo baiano, região enfincada entre o
litoral e o sertão. Morava na cidade de Serrinha, famosa por ter uma “água
milagrosa”, até cantada em música: “água de Serrinha, milagrosa, muita gente
tem a prova...”.[2]
Por ali se esparramava muito sisal, onde se produzia corda, muita corda. E se
perdia braços, nas máquinas de desfiar o sisal.
Mas minhas
lembranças que desejo juntar aqui na transição para o Cerrado, vem é do sertão
mais profundo. Perto de onde se convencionou chamar “Raso da Catarina”. Quando
eu saí da Bahia tinha 14 anos de idade, e por um tempo morei em Jeremoabo,
cidade que faz parte da região que leva esse nome, bem no meio da Caatinga,
próximo a Sergipe e Paulo Afonso, onde se situa uma enorme cachoeira e uma
enorme represa para geração de energia elétrica. Uma das mais antigas da Bahia.
Passei bons
momentos de minha infância por ali. Por certa vez fui por uma necessidade.
Minha madrinha, Estelita Montalvão, irmã de minha mãe vivia ali, sozinha. Era uma pessoa que se
tornou por um tempo uma segunda mãe. E ela me tinha como um filho, já que nunca
tivera um. Eu tinha um carinho e um amor especial por ela. Uma outra tia ficara com nossa família ainda na cidade de Alagoinhas, onde nasci. Era o ano
em que nascera meu irmão mais novo, o fatídico ano de 1964. Meu pai era
vereador naquela cidade. Se elegeu por cinco mandatos. No último não chegou até
o final, foi preso, levado para Salvador, onde ficou por 30 dias, no Forte de
Monteserrat. Ele era do PTB, então partido do presidente João Goulart. Minha mãe se recuperava do resguardo pelo nascimento de meu irmão
quando os brucutus chegaram lá em casa, armados de fuzis, e sem cerimônia
levaram meu pai preso deixando minha mãe no desespero. Eu não vi essas cenas,
estava, portanto, em Jeremoabo vivendo com minha tia, exatamente para aliviar a
barra para minha mãe.
 Ali, numa
cidadezinha pacata, sem muita coisa por fazer, vivi bons momentos. E estabeleci
uma forte ligação com a caatinga, para onde por muitas vezes saí para caçar com
meu pai em períodos de férias. Adentrava aquela vegetação cortante em busca de
codorna, nhambu e rolinhas. Adorava fazer farofa desses bichinhos. Não os
matávamos por esporte ou diversão.
Ali, numa
cidadezinha pacata, sem muita coisa por fazer, vivi bons momentos. E estabeleci
uma forte ligação com a caatinga, para onde por muitas vezes saí para caçar com
meu pai em períodos de férias. Adentrava aquela vegetação cortante em busca de
codorna, nhambu e rolinhas. Adorava fazer farofa desses bichinhos. Não os
matávamos por esporte ou diversão.
Andávamos horas e
horas por dentro da caatinga, até chegar no rio Vaza Barris. Este tem uma
história no meio de outra história. O Vaza Barris nasce próximo a Canudos,
lugar que ficou marcado na história pela resistência dos jagunços (O termo "jagunço" é dúbio, com o tempo mudou a sua conotação) liderados por
Antonio Conselheiro, na famosa guerra contra milhares de soldados derrotados
por três vezes. Até ser completamente dizimada. O açude de Cocorobó, que soterrou parte da história de Canudos, é formado
pelas águas do Vaza Barris. Mas nos limites baiano atualmente o rio é
intermitente.
De lá o Vaza
Barris corta o sertão em direção a Sergipe quando se torna perene, e vai
desembocar no Oceano Atlântico, formando no seu estuário na praia de Mosqueiro,
em Aracaju.
Foi nesses rincões
da caatinga que vivi. Permeados de histórias da jagunçada de Antonio
Conselheiro (foi em Jeremoabo a primeira refrega, com os poucos soldados
enviados para lá, logo no começo do conflito de Canudos, sendo surpreendidos na
delegacia da cidade) de cangaceiros (Lampião visitara várias vezes Jeremoabo, e
ouvi muitas histórias do medo imposto por Virgulino e sua turma) e também foi
rota da Coluna Prestes.
 Carrego comigo
cada detalhe daquele lugar, jamais perco esse vínculo e por muitas vezes
retornei ali e ainda espero ir mais vezes. A pobreza, a dureza e secura do
solo, as árvores espinhentas e pouco frondosas, a raridade dos riachos e rios
num ambiente de seca quase permanente, me atraem pela paixão e pela atração do
pertencimento. Aquele era o meu lugar. E por isso, por tanto tempo fui
apaixonado pela Guerra de Canudos, quase sendo esse o tema do meu mestrado.
Carrego comigo
cada detalhe daquele lugar, jamais perco esse vínculo e por muitas vezes
retornei ali e ainda espero ir mais vezes. A pobreza, a dureza e secura do
solo, as árvores espinhentas e pouco frondosas, a raridade dos riachos e rios
num ambiente de seca quase permanente, me atraem pela paixão e pela atração do
pertencimento. Aquele era o meu lugar. E por isso, por tanto tempo fui
apaixonado pela Guerra de Canudos, quase sendo esse o tema do meu mestrado.
Tenho várias
edições do livro de Euclides da Cunha, "Os Sertões". Na primeira leitura o sacrifício foi
passar das cem primeiras páginas. Mas por ele aprendi a compreender a importância da geologia,
embora tenha adquirido um olhar crítico e estratégico e não meramente
descritivo. Já li Os Sertões três vezes, e ainda lerei mais.
Nosso destino na
Bahia, no entanto, foi encerrado, pelo menos para moradia permanente, com a
transferência de meu pai, funcionário do antigo DNER, hoje DNIT, para
Morrinhos. Pois é, embora nas cidades, nosso destino nos tirou de uma "Serra" e
nos levou para um "Morro". Da caatinga e do recôncavo baiano, para o cerrado
goiano.
Um ambiente
totalmente diferente. Que nos assustava quando soubemos da mudança que
teríamos. Nossos amigos zoavam dizendo que íamos nos ver com os índios. Era
essa a imagem que se tinha do “assustadoramente” distante Goiás.
 Claro que o que
vimos foi completamente diferente. Apesar de características distantes daquela
de onde viemos, no falar, no comer, no jeito de se comportar e se vestir. Mas
nossa capacidade adaptativa é enorme. Ainda mais quando estamos entrando na
adolescência. Foi fácil nos adaptarmos.
Claro que o que
vimos foi completamente diferente. Apesar de características distantes daquela
de onde viemos, no falar, no comer, no jeito de se comportar e se vestir. Mas
nossa capacidade adaptativa é enorme. Ainda mais quando estamos entrando na
adolescência. Foi fácil nos adaptarmos. 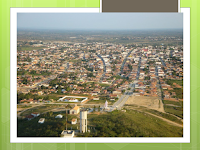 |
| Vista panorâmica de Serrinha-BA |
 Não nos restava
outra saída que não nos virarmos para termos um pouco de dinheiro, para nos
divertirmos e aproveitar a adolescência. Mas, fazer o quê? Capinei roça de
melancia, trabalhei de peão numa usina de fabricar massa asfáltica, tudo ao
lado do bairro onde morávamos, em residências construídas para os funcionários
do DNER.
Não nos restava
outra saída que não nos virarmos para termos um pouco de dinheiro, para nos
divertirmos e aproveitar a adolescência. Mas, fazer o quê? Capinei roça de
melancia, trabalhei de peão numa usina de fabricar massa asfáltica, tudo ao
lado do bairro onde morávamos, em residências construídas para os funcionários
do DNER.
E, na ausência
dessas atividades, nos embrenhávamos no cerrado. Foi a partir daí que tive
contato direto com a flora e a fauna do cerrado, e o conheci na prática, pela
necessidade.
Saíamos bem cedo,
por volta de cinco horas, ainda escuro, e caminhávamos por quilômetros dentro
do cerrado, do lado oposto da BR-153. O bairro onde morávamos era na margem da
rodovia. Cada um de nós, íamos em grupo de amigos, às vezes três, mas
chegávamos a ir em turma de cinco ou seis, levava dois baldes nas mãos. Os mais
fortes ainda carregavam sacolas. Íamos “Caçar Pequi”. Sim, era assim que
dizíamos. Ainda cerrado nativo, quanto mais andávamos mais nos deparávamos com
imensos pés de pequis. Retornávamos próximo ao meio-dia carregados desse
bendito fruto, responsável por nossos divertimentos de finais de semana.
 Quando chegávamos
nos apressávamos para descascar os frutos (às vezes eram descascados embaixo do próprio pequizeiro). Os dois baldes acabavam virando
somente um. E lá íamos para a beira da BR, com um prato, que era como vendíamos
os pequis. Não demorava muito e fileira de carros estacionavam perigosamente no
encostamento da rodovia, ainda não
duplicada. Em menos de duas horas nós conseguíamos vender todos os pequis
catados. Era também um divertimento, e não nos envergonhávamos, muito pelo contrário.
Quando chegávamos
nos apressávamos para descascar os frutos (às vezes eram descascados embaixo do próprio pequizeiro). Os dois baldes acabavam virando
somente um. E lá íamos para a beira da BR, com um prato, que era como vendíamos
os pequis. Não demorava muito e fileira de carros estacionavam perigosamente no
encostamento da rodovia, ainda não
duplicada. Em menos de duas horas nós conseguíamos vender todos os pequis
catados. Era também um divertimento, e não nos envergonhávamos, muito pelo contrário.
Isso durou muito
tempo, o pequi tornou-se um fruto bendito, que nos possibilitava aproveitar os
fins de semanas, difícil de ser caso dependêssemos de alguma ajuda de nossos
pais. Eram tempos difíceis, muito difíceis.
 Mas ficou um
trauma. Essa também foi a razão por eu nunca ter gostado de comer pequi. Creio
que o cheiro forte, por diversas vezes tendo que manuseá-lo, repetidamente, me
fez enjoar. Nunca gostei de comer pequi, mas o pequi será inesquecível para
mim.
Mas ficou um
trauma. Essa também foi a razão por eu nunca ter gostado de comer pequi. Creio
que o cheiro forte, por diversas vezes tendo que manuseá-lo, repetidamente, me
fez enjoar. Nunca gostei de comer pequi, mas o pequi será inesquecível para
mim.
Em 1978 vim para
Goiânia, era preciso encontrar um emprego, tão logo concluí o curso colegial.
Foi difícil encontrar alguma coisa. Trabalhei de peão de obra, saindo na
segunda-feira cedo e dormindo na obra até sábado, como apontador, depois
auxiliar de almoxarifado e por fim almoxarife. Até que em 1980, consegui passar
no vestibular, depois de me preparar pelos fascículos do curso abril
vestibular. Tentei jornalismo, duas vezes, e por fim história.
 Vim estudar então na
UFG, no Instituto de Ciências Humanas e Letras, bem ao lado da placa que
homenageia August de Saint-Hilaire, homenageado neste evento depois de 200 anos
de sua passagem pelo Brasil. Desconhecido para mim até então. Mas o bosque, famoso
em minha época, mas degradado depois e mal-visto, era conhecido, de forma
divertida, como uma área de pouso da “esquadrilha da fumaça”. Os entendedores
entenderão. Naquela época era um lugar recôndito para quem queria
“relaxar”, e eram poucos os espaços possíveis, diferentes de hoje.
Vim estudar então na
UFG, no Instituto de Ciências Humanas e Letras, bem ao lado da placa que
homenageia August de Saint-Hilaire, homenageado neste evento depois de 200 anos
de sua passagem pelo Brasil. Desconhecido para mim até então. Mas o bosque, famoso
em minha época, mas degradado depois e mal-visto, era conhecido, de forma
divertida, como uma área de pouso da “esquadrilha da fumaça”. Os entendedores
entenderão. Naquela época era um lugar recôndito para quem queria
“relaxar”, e eram poucos os espaços possíveis, diferentes de hoje. A minha
curiosidade me levou a procurar saber quem tinha sido aquele francês que era
homenageado com um bosque no recém construído campus da Universidade
Federal de Goiás.
A minha
curiosidade me levou a procurar saber quem tinha sido aquele francês que era
homenageado com um bosque no recém construído campus da Universidade
Federal de Goiás.
E foi dessa forma
que conheci um pouco da história de Saint-Hilaire. Não viajei tão longe quanto
ele, mas me identifiquei com o seu naturalismo pelo que que já sentira em minha
vida.
Hoje sei da
importância de viajar, e sempre falo isso para meus alunos e alunas. Viagem, as
experiências de grandes geógrafos, biólogos e historiadores (Humboldt, Reclus, Vidal de La Blache... Saint-Hilaire) assim
como Charles Darwin, e suas importantes descobertas, se deram pelas viagens,
pelos conhecimentos empíricos de realidades complexas, diferentes e admiráveis. Além do mais, vajar nos ajuda a eliminar boa parte de nossos preconceitos.
Era esse o meu
relato, e a forma que encontrei de me aproximar do que se propôs a fazer a
organização do evento que homenageia esse importante naturalista, botânico, mas
sem sombra de dúvidas, pelos seus relatos e observações, também geógrafo e
historiador.
 |
| Mesa redonda: Romualdo Pessoa, Eguimar Chaveiro, Lena Castelo Branco Coord: Profª Fabrizia Gioppo Foto: Antenor Pinheiro |





Nenhum comentário:
Postar um comentário